O que aprendi em horas extremas

Eu estava no quinto ou sexto mês de gravidez, aquela fase da vida em que até o tempo parece estar a nosso favor. Cada dia que passava eram menos 24 horas para finalmente conhecer o rosto do nosso bebê. Em meio à espera, meu marido comentou que precisava ir a São Paulo para ver o tio doente. “Antes que seja tarde”, ele frisou. Eu ainda não conhecia o Tio Rôdi, que enfrentava uma doença em estágio terminal. Os dias passaram rápido e o temor do Gui se concretizou: não deu tempo de eles se encontrarem. O motivo, porém, passou longe do previsto: aos 38 anos, foi o pai do meu filho quem se foi subitamente. Quem diria que o tio-avô teria tempo de conhecer o bebê, e o pai dele, não.
Um ou dois anos depois, enquanto Francisco dava seus primeiros passos, eu e Tio Rôdi dançávamos “dois pra lá, dois pra cá” numa festa de casamento da família. A doença ainda lhe deu alguns anos, deixando a lição irônica: até quando parece previsível, a vida é mestre em nos fazer surpresas.
Eu me lembro de não querer colocar os pés no chão — não tinha mais chão. No mapa do meu futuro, desenhado na minha cabeça, eu olhava para uma estrada que já não existia mais. Eu teria que construir outro caminho. Eu tinha a minha vida, não sabia o que fazer com ela, mas tinha também um filho prestes a nascer, um relógio correndo contra qualquer inércia. Eu não tinha alternativa. E não há nada mais mobilizador do que não ter alternativa.
Quando o que parecia impossível aconteceu, tudo aquilo de que eu não me achava capaz começou a se mostrar. Se eu não me sentia preparada para a tarefa de ser mãe, mesmo quando ainda tinha com quem dividir a missão, ao me ver sozinha descobri que sabia ser mãe — para meu filho e até para mim mesma. Se desde sempre trabalhava como assalariada, meus movimentos para expressar o luto me mostraram potenciais que eu desconhecia. E foi como mãe solo, sem patrimônio ou pais vivos que me tornei autônoma — mais que isso, empreendedora — graças a uma capacidade de trabalho que se mostrou muito mais diversa depois da perda.
Acreditar na segurança é um perigo. A natureza não se curva às vontades do homem, que insiste em cultivar a ilusão de ser capaz de controlar as coisas.
Nas horas extremas, sou capaz de conhecer a minha força, aquela que eu sequer imaginava ter. Adquiro a incomparável coragem de quem não tem nada a perder. Descubro que estou longe de ser o centro do Universo. Que a vida tem uma força incontrolável para continuar, apesar da minha dor. Sou eu quem tem de se adaptar. Saio da negação para finalmente começar a agir.
Pensei nisso nos últimos dias. Em como somos movidos pela perda. Pensei na solidariedade, que cresce rápido como o volume das águas. Na mobilização coletiva. Os caminhos desbravados em meio a água e lama, os anjos que voam sem asas, as somas financeiras que surgem da comoção generalizada. Limites são mesmo muito poderosos. O mundo se move nas horas extremas. Não há nada mais mobilizador do que não ter alternativa porque somos obrigados a inventar uma.
“Nada aproxima tanto os seres humanos como o fato de sentirem medo juntos.” A frase que anotei há décadas, extraída de algum livro da escritora francesa Marguerite Yourcenar, volta e meia me vem à memória. E como se mantém atual. Diante de uma grande ameaça, ou até diante do que já foi arrasado, a capacidade de conexão entre as pessoas é tão inimaginável quanto a força da natureza.
O problema é que o tempo passa, as coisas retomam certa normalidade, o medo abranda. E voltamos a ser individualistas, imediatistas, robôs que não se fazem perguntas. O despertador volta a tocar na hora de sempre, a vida retoma seu curso egoísta e anestesiado do “cada um cuida de si”. O que se faz em horas extremas tem um poder que a “normalidade” parece dissolver num copo d’água.
O mundo se move nas horas extremas. Não há nada mais mobilizador do que não ter alternativa porque somos obrigados a inventar uma.
A ameaça parece ter ido embora, as faltas se acomodam, as rotinas nos colocam de volta no automático e esvaziam de sentido o senso de coletividade que se mostra nas emergências.
Por que esse sentimento que nos ilumina quando chegamos ao limite parece nunca ter existido quando tudo se acalma? Por que temos a ilusão de alargar os limites?
Acreditar na segurança é um perigo. A natureza não se curva às vontades do homem, que insiste em cultivar a ilusão de ser capaz de controlar as coisas. Um terremoto no Japão ou em Taiwan, a doença do parente da amiga, nosso próprio envelhecimento. Tudo parece distante demais. Até que um dia as águas invadem um estado inteiro, bem ao nosso lado. Destruir parece não demandar muito tempo. Reconstruir é dia a dia.
Dar as mãos deveria ser sempre. Um modo de vida, uma postura. Compreender que somos um, que o mundo é nossa casa comum, que cada pequena escolha tem consequência nessa mesma casa comum. Cuidado e urgência não são só para quando o mundo desaba. A vida é o próprio extremo, a própria urgência.
Se já fomos capazes de conhecer o poder da coletividade, por que não o adotamos no dia a dia? Se não agora, quando?
Cris Pàz é colunista do Dia de Beauté, onde publica mensalmente sobre beleza e longevidade. Publicitária premiada e escritora com oito livros publicados, ela nasceu em 1970 e é uma das precursoras da produção de conteúdo digital no Brasil. Colunista da rádio BandNews FM de BH, comanda o podcast 50 Crises (entre os destaques de 2020 no Spotify Brasil) e traz novos olhares sobre saúde mental, protagonismo feminino, maternidade, moda e longevidade por meio de suas redes e palestras.
{Foto: Nur Yilmaz/ Pexels e Cris Pàz}



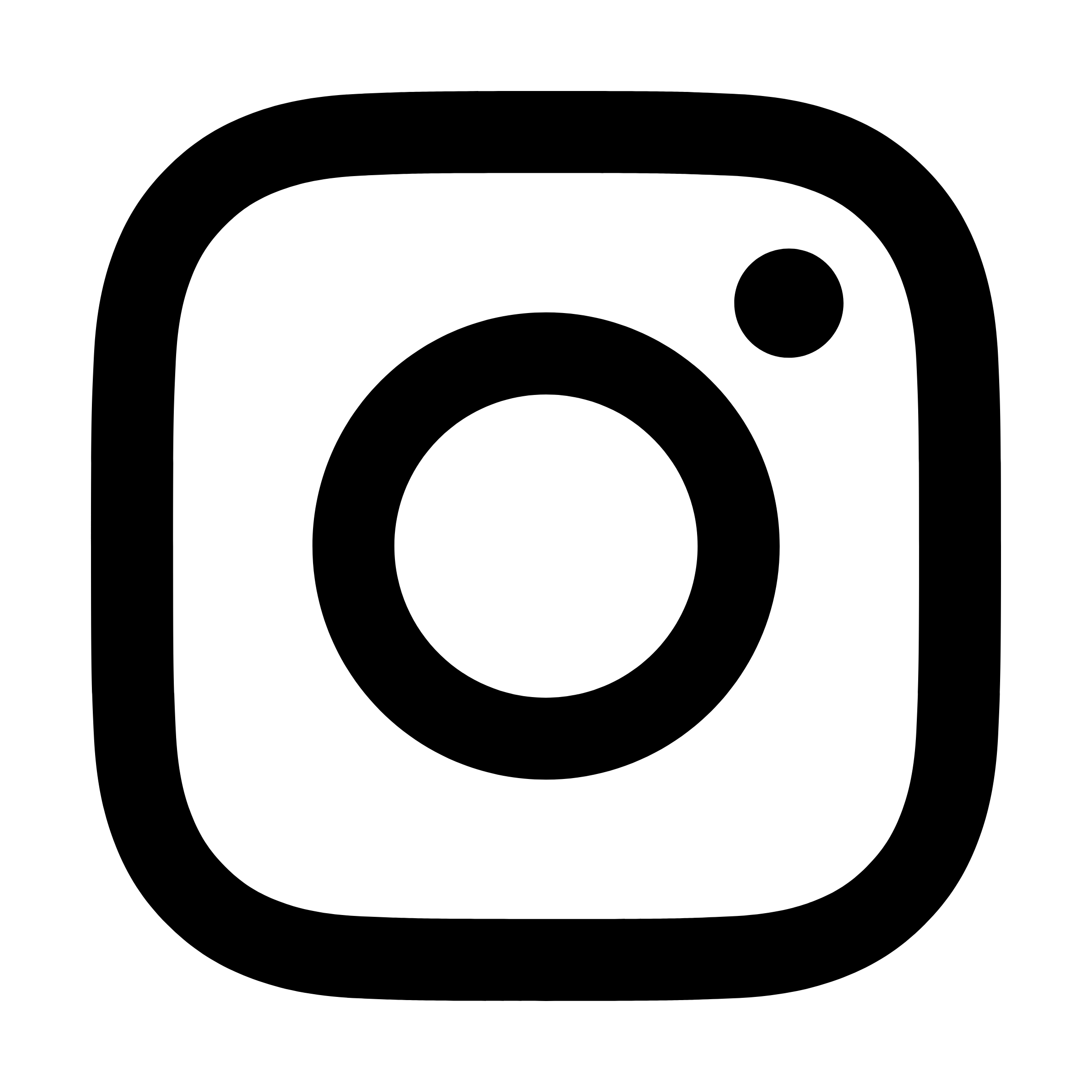
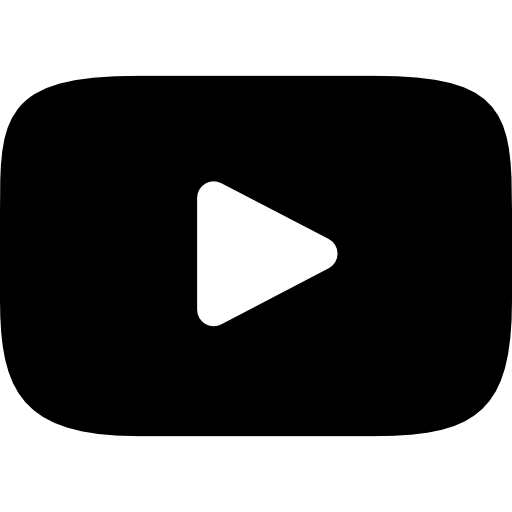





Comentários